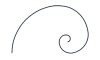Com a voz rachada balbuciou-se uma súplica esganiçada, imaginar um legado cultural tão assoberbado, uma riqueza simbólica a solevar reminiscências de uma ambição paciente, incontáveis coragens e vidas sacrificadas por um transcendente ideal, ameaçadas por uma estrangeira indiferença ou até desprezo pela percecionada avareza terá sido seguramente uma ansiedade incomportável a espezinhar impiedosamente o espírito do Vigário de Cristo e pastor de toda a Igreja.
Faziam 455 anos depois de Cristo e ainda era recente a triunfante dissuasão, protagonizada pelo mesmo Papa Leão I e uma dedicada embaixada, da invasão da Itália pelos Hunos liderados por Átila. Todavia, a desgraça voltava a acometer o império decadente através das mãos dos vândalos, então em guerra com o usurpador Imperador Romano do Ocidente, Petrónio Máximo.
Esta tribo germânica havia adquirido uma reputação selvagem, bruta e ignóbil. Sendo que a sua designação acabou mesmo por se acrescentar ao vocabulário ocidental como um termo representativo de um apetite por gratuita destruição e pilhagem em janeiro de 1794 por Henri Grégoire – incapaz de permanecer apático à profanação de artefactos culturais que estavam a ser destruídos como símbolo de um ódio ao passado do feudalismo durante o Reino do Terror na ressaca da alegada virtuosa revolução – o rei vândalo Genserico navegou com a sua poderosa frota da sua capital em Cartago, até o Tibre e finalmente saqueou Roma, pois o assassinato e usurpação do trono do imperador anterior (Valentiniano III) por Petrónio Máximo no mesmo ano foi visto por Genserico como uma invalidação do seu tratado de paz de 442.
Foi este o contexto que legitimou o exercício provocador de iniciar este texto com subjetividade característica e igualmente desnecessária na descrição deste acontecimento histórico. Próspero da Aquitânia é a fonte consultada durante este período e é através da sua prosa que hoje sabemos que o Papa Leão I implorou a Genserico para não destruir a antiga cidade ou assassinar os seus habitantes.
Boécio nasceu pouco depois (470 a.C.) do evento discutido anteriormente e foi para ele evidente que a cultura latina do seu tempo estava em crise e numa trajetória ética descendente. A sua obra pretendia responder a esta adversidade e procurou na preservação e difusão da cultura grega a solução para essa fase difícil, traduzindo para o latim as obras de Aristóteles e Platão.
A solução quase confuciana de procurar no passado antídotos para o relativismo destravado é já característica destes momentos caóticos e incendiários, quando o intelecto se divorcia da sabedoria e a excessiva materialização do pensamento origina a epistémica arrogância de rejeitar o transcendente, revela-se urgente que alguém com habilidade lembre ao homem da sua humanidade.
Auguste Comte não se distanciou da ideia de Francis Bacon quando ele determinou que a história devia ser a ciência da memória e foi com base numa ideia semelhante que se chegou à filosofia da história positivista que afirma que há uma linearidade na evolução da humanidade em três estágios: o teológico, o metafísico e o positivo. Sendo que essa evolução estaria vinculada à figura do herói, do grande homem que conduz a sociedade e a própria história de um modo absoluto, porém a disposição de Hegel adverte para o princípio de liberdade e o espírito da época, e é com as suas considerações que devíamos metodicamente compreender que a humanidade por diversas vezes se encontrou no impasse que hoje nos afronta.
Caricaturar erroneamente momentos históricos, filhos a denunciar o comportamento dos pais e a decapitação histérica dos simbolismos são os pormenores Orwellianos que concederam intemporalidade ao seu romance distópico e neste zeitgeist onde predomina a desconstrução, ironia, estilização, relativismo e niilismo é preponderante exigir rigor quando se recorre à história, confiar nos seus ensinamentos e utilizar a disciplina para orientar o comportamento singular.
A batalha cultural que hoje nos impacienta é uma antítese recorrente do consciente coletivo. Esta moralidade transvertida que exige masoquismo aos fortes e sadismo aos fracos alicerçada num etnocentrismo benevolente a privilegiar ativismo de submissão, onde a vítima reivindica a humilhação para indemnizar a sua posição, representa uma nova transformação ideológica, uma espécie de liberalismo do medo que parece proferir a ideia que o fraterno localismo precisa de terminar para se preludiar o híbrido globalismo.
É curioso como uma civilização obedece a uma certa sazonalidade, Peter Burke foi eficiente na reflexão quando exteriorizou que a função do historiador é lembrar à sociedade aquilo que ela quer esquecer e de facto há um malabarismo revisionista que sempre ocorre no inverno civilizacional, uma condescendência prepotente aliada a uma nefasta ausência epistemológica. De repente deixa de existir complexidade no fenómeno existencial e tudo aquiesce a uma dialética exageradamente abstraída onde só cabem opressores e oprimidos. Ignora-se os obstinados dilemas na moralidade humana, o silêncio cósmico a empecilhar a clarividência da alma terrena e até a dificuldade de não sucumbir às pressões e intransigências da respetiva contemporaneidade.
Oswald Spengler e Arnold J. Toynbee foram os últimos a trabalhar a conceção cíclica da história e o que torna mais interessente é precisamente o antagonismo de ambos. Enquanto que Toynbee se debruçava numa perspetiva otimista escrevendo a história do mundo na década de 1940 com especial enfase na religião, Spengler intitulava a sua obra com a preconização fatídica: “O Declínio do Ocidente” – sendo que as profecias sobre a inexorável destruição do que apelidou de “civilização faustiana” têm sido um tópico recorrente para pen sadores e intelectuais públicos.
Em 1989, o termo “fim da história” apareceu num artigo de Francis Fukuyama. O historiador americano referia-se à vitória dos países democráticos sobre o comunismo soviético, prestes a ruir com a queda do Muro de Berlim. Este prognóstico acabou por representar um aneurisma no consciente ocidental que julgou ter concluído a evolução intelectual na organização social, esta precipitação desconsiderou que uma civilização também pode perecer por suicídio. Agora Fukuyama tenta redimir o lapso interpretativo afirmando que “As maiores ameaças vêm de dentro do próprio Ocidente” e de facto é inegável que o adversário do novo é o antigo, daí a premente necessidade de adulterar o passado, pois um povo sem memória é um povo sem futuro.
“Eu, porém, vos digo que não jureis nunca a verdade, porque a verdade nua e crua, além de indecente, é dura de roer; mas jurai sempre e a propósito de tudo, porque os homens foram feitos para crer antes nos que juram falso do que nos que não juram nada. Se disseres que o sol acabou, todos acenderão velas.” – Machado de Assis