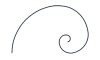Se utilizarmos a perspetiva referencial presente na ética aristotélica, conseguimos depreender que o ser humano é forçado a esboçar, cultivar e aprimorar o seu propósito existencial. Encontrando-se um procedimento distinto resultante da essência intrínseca do animal, servindo como exemplo as abelhas, que prontamente agem em concordância com o seu empenho maior e primordial. Para Aristóteles a finalidade da ação humana é a felicidade ou “sumo bem”, sendo este o propósito da espécie, daí a exigência (que pode ser atendida ou negligenciada) de cultivar a virtude.
Porém, se relacionarmos esta observação aristotélica com o ethos de prometeu, conseguimos um resultado abstrato merecedor de ponderação. O mito da criação representa uma insurreição e insubordinação de forma a atribuir algo divino à espécie humana, sem essa atribuição não haveria propriamente nada a diferenciar a espécie, pelo menos, nada suficientemente caracterizador. É este “fogo de olimpo” que aufere à espécie humana a sua propensão à habilidade técnica e ao raciocínio abstrato, logo há uma prótese a preceder a existência. De facto, se formos a pensar não há disciplina científica que não obedeça à relação apriorística com a respetiva tecnologia (não se pratica geometria sem a régua).
Fazendo regressar o propósito de felicidade, pensado por Aristóteles, e confrontando-o com a prótese existencial da espécie, poderíamos legitimamente concluir que a faculdade técnica deve potencializar a felicidade humana. Todavia, a primeira associação tecnológica exercida pela espécie foi inevitavelmente a natureza bélica (controlo), primeiramente com o exterior inóspito e posteriormente com as divergências interiores. É precisamente neste território de potencialidade/expectativa/concretização que com este ensaio pretendo relacionar os raciocínios de dois pensadores do século XX, sendo que o primeiro chegou a afirmar que “a tecnologia não é um instrumento”.
Quem fez a afirmação foi Martin Heidegger, sendo o pensador do passado século, que mais insistiu na importância da técnica para a compreensão da modernidade. No pensamento de Heidegger, interessa menos resolver problemas e mais a formulação de boas perguntas. A pergunta que considera fundamental é a questão relativa ao “Ser”. Contudo, a interrogação da tecnologia em Heidegger provém, de forma intrínseca, da crítica da modernidade, a partir do ponto de vista ontológico. Heidegger recusa a visão instrumental da tecnologia, isto é, a tecnologia como um meio neutral com que os seres humanos se servem para transformarem o mundo. Nos seus modos de operação, a técnica provoca a natureza, exigindo dela a libertação de energias que podem ser exploradas e acumuladas. A essência da tecnologia moderna deve ser percebida como um processo de “desocultação” da natureza com um carácter especial de provocação relativamente a ela.
Heidegger estabelece então uma distinção entre dois tipos de tecnologia:
– A tecnologia antecedente à revolução Industrial, profundamente envolvida com a natureza e servindo-se da natureza, mas essencialmente dependente dela, só transfere força e movimento. Um tipo de tecnologia que não agride a natureza e que pelo contrário a envolve, num registo de cooperação. Também é importante ressalvar que as estruturas deste tipo se harmonizam devidamente com a paisagem. (ex: moinhos de água).
– A tecnologia posterior à revolução industrial ou tecnologia moderna, que para Heidegger, inaugura, assim, um modo distinto relativamente à exploração da natureza. Regida por processos que se relacionam com a descoberta, transformação, acumulação e distribuição. Constitui, assim, um modo de “desocultamento” substancialmente diferente daquele dominante nas tecnologias pré-industriais. Como exemplo ilustrativo, Heidegger fornece o exemplo das centrais térmicas onde se extrai a energia acumulada em forma de carvão e se transforma em eletricidade que, por sua vez, pode ser armazenada e preparada para ser distribuída e usada segundo a vontade humana. Atendendo ao facto de que a crítica estética se apresenta indissociável à crítica da técnica em Heidegger, também é relevante apontar que a central térmica não se harmoniza nem complementa a paisagem, afigurando-se como mais um aspeto divergente dos objetos tecnológicos “antigos”.
No seguimento das deliberações propostas por Heidegger relacionadas com a instrumentalização tecnológica, desaguamos na sua conclusão pouco auspiciosa, nomeadamente a perigosidade associada à tecnologia. O filósofo alemão não considera este aspeto simplesmente como mais um perigo acrescido à panóplia de ameaças que pairam no raio de ação humana, considerando mesmo a tecnologia como o “maior perigo”, distanciando esta problemática das restantes. Primeiramente porque a objetificação relacional com os aparelhos técnicos se pode alargar para a natureza relacional humana, enxergando nos nossos semelhante matéria-prima para ser manipulada.
Porém, o mais preponderante, na acepção do pensador, é a constatação de que não há escapatória da vontade incessante de poder e controlo que a tecnologia propicia. Aliás, o que torna a complicação verdadeiramente dramática é que o próprio ato de querermos avançar para uma nova interpretação do ser se revela forçosamente uma operação ou interação tecnológica.
Foi no confronto desta perniciosa conclusão e diante da incapacidade humana de poder “influir sobre esta engrenagem do curso inevitável das coisas”, que durante uma entrevista concedida à revista alemã Der Spiegel em 23 de setembro de 1966, Heidegger pronunciou a famosa frase “Já só um deus nos pode salvar”. Pois, ele enquadra este problema no território metafísico, território esse onde podemos relembrar o momento inicial do ensaio onde referimos o ethos de Prometeu.
O segundo autor que gostaria de introduzir neste ensaio é o filosofo político Carl Schmitt, relacionando os seus apontamentos ontológicos na criação de identidades coletivas. A tese schmittiana de que a “política é inevitável e indestrutível”, e que existiria mesmo com o desaparecimento do Estado, permite afirmar que o conceito do político está baseado numa matriz antropológico-existencial, na qual a determinação do estatuto da natureza humana tem um papel relevante.
Na obra “Teologia Política” Schmitt é bastante claro: “Todas as ideias políticas principiam, de uma maneira ou de outra, numa posição sobre a natureza do homem. pressupondo se ele é ‘bom por natureza’ ou ‘mau por natureza”. Schmitt não hesita em assumir a tese de que o homem é “mau por natureza”. Observa também que os pensadores que adotaram o pressuposto antropológico de que o homem é “mau”, isto é, um ser “perigoso”, construíram teorias políticas autênticas e são, justamente, aquelas que acabam por realçar a dimensão política da existência humana.
“Por mais diferentes que possam ser estes pensadores quanto à espécie, ao nível, ou à importância histórica na concepção problemática da natureza humana, todos eles estão de acordo, na mesma medida em que se mostram como pensadores políticos”.
Segundo Schmitt, na filosofia política de Maquiavel, Hobbes, Bossuet, Fichte, Donoso Cortés, Taine, Hegel e outros, permanece um traço comum: todos rejeitam como pressuposto das suas teorias políticas a noção da bondade natural do homem e o caráter não conflituoso da natureza humana.
No ambiente político de Weimar o jurista Carl Schmitt concentrou a sua crítica ao liberalismo, assumindo-a como o cerne de sua objeção ao parlamentarismo moderno e propondo a recuperação do conceito de soberania (sob a ótica da exceção) como ordenador da política e da sociedade.
Na sua obra “A situação intelectual do sistema parlamentar atual” enfatiza a ideia de que os elementos indicativos do sistema parlamentar como a “discussão” e a “publicidade” haviam perdido o sentido próprio transformando-se em ornamentos, o que era uma consequência de uma democracia de massas em que as organizações partidárias haviam se transformado em máquinas eleitorais e as suas intervenções parlamentares em palcos de negociação e de interesses distintos. Tal quadro era, a seu ver, sinal de uma crise intelectual do sistema parlamentar, uma crise de bases filosóficas que comprometia decisivamente a integridade do modelo.

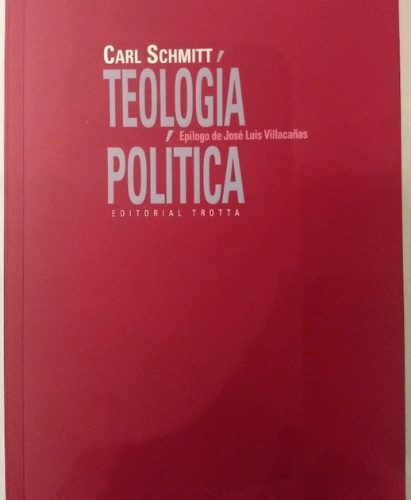
Portanto, para Schmitt o liberalismo na sua essência subvertia o direito do povo à autodeterminação solevando-se com isso, grupos de interesses diferentes que utilizavam as instituições em benefício próprio. O pensador alemão entendeu que o mesmo liberalismo perdeu a sua validade como princípio político para o mundo moderno e, portanto, devia ser substituído com urgência.
No prefácio à segunda edição de “A situação intelectual do sistema parlamentar atual” (1926) Schmitt afirma que na verdadeira democracia estaria implícito que não só o igual deveria ser “tratado igualmente”, mas também, e como “consequência inevitável, o não igual” deveria ser “tratado de modo diferente”. Em primeiro lugar, a democracia deveria ter “homogeneidade” e, em segundo, se fosse preciso, “eliminar ou discernir o heterogéneo”. Portanto, para ele, já desde o século XIX a democracia constitui-se “sobretudo da nacionalidade de um país em particular, da sua homogeneidade nacional” de forma a que a igualdade só era “politicamente interessante e valiosa” na medida em que possuísse “uma substância, contendo… pelo menos a possibilidade e o risco de uma desigualdade”.
Logo, partindo da ideia de uma democracia fundada sobre a “homogeneidade” do corpo social, sobre a “identidade entre governantes e governados”, Schmitt nega “uma sociedade politicamente pluralista, expressão de uma multiplicidade e de uma heterogeneidade de forças sociais”.
Por outro lado, para Schmitt o que merece maior atenção no pensamento democrático não é a sua identificação com a vontade do povo, mas sim os termos práticos forjados para esta identificação, ou seja:
“os meios para moldar o controle do povo, que são: força militar e política, propaganda, domínio sobre a opinião pública por meio da imprensa, organizações partidárias, reuniões, educação do povo, escolas. A força política chega mesmo a formar, primeiro, a própria vontade do povo da qual ela deveria emanar.”
Ora estes conceitos de heterogeneidade e homogeneidade são bastante pertinentes no contexto atual, pois nas indagações de Schmitt sobre a potencialidade de um governo global, o jurista alemão que praticamente arquitetou o pensamento de atomização política do 3º Reich, afirmou que não seria possível uma centralização globalizada, pois os povos intrinsecamente obedientes a esta dicotomia (heterogeneidade/homogeneidade) necessitavam forçosamente de uma compreensão ontológica de “nós” e “eles”.
Seria, portanto, imperativo haver o critério de “estrangeiro” para proporcionar o critério de “pertença”. Todavia, houve um momento redentor onde o pensador salientou que só a tecnologia poderia remodelar este relacionamento ontológico, ou seja, quando o “nós” representar a humanidade e o “eles” representar a tecnologia (ou o inverso considerando uma eventual convergência biodigital), então sim, haverá condições para um governo global na ótica de Shmitt.
Vislumbrando a conjuntura atual é caso para suscitar a vontade de voltar a suspirar por esse tal deus que supostamente nos pode salvar.